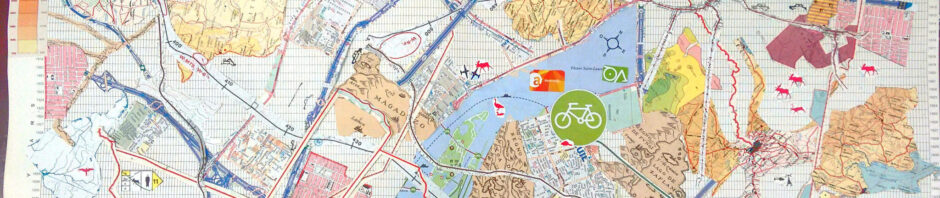O aparelho fotográfico é, por certo, objeto duro feito de plástico e aço. Mas não é isso que o torna brinquedo. Não é a madeira do tabuleiro e das pedras que torna o xadrez jogo. São as virtualidades contidas nas regras: o software. O aspecto duro dos aparelhos não é o que lhes confere valor. Ao comprar um aparelho fotográfico, não pago pelo plástico e aço, mas pelas virtualidades de realizar fotografias. (…) É o aspecto mole, impalpável e simbólico o verdadeiro portador de valor no mundo pós industrial dos aparelhos. Transvalorização de valores; não é o objeto, mas o símbolo que vale.
Por conseguinte, não vale mais a pena possuir objetos. O poder passou do proprietário para o programador de sistemas. Quem possui o aparelho não exerce o poder, mas que o programa e quem realiza o programa. O jogo com símbolos passa ser jogo do poder. Trata-se, porém, de jogo hierarquicamente estruturado. O fotógrafo exerce poder sobre quem vê suas fotografias, programando os receptores. O aparelho fotográfico exerce poder sobre o fotógrafo. A indústria fotográfica exerce poder sobre o aparelho. E assim ad infinitum. No jogo simbólico do poder, este se dilui e se desumaniza. Eis o que sejam “sociedade informática” e “imperialismo pós-industrial”. (…)
O aparelho fotográfico é o primeiro, o mais simples e o relativamente mais transparente de todos os aparelhos. O fotógrafo é o primeiro “funcionário, o mais ingênuo e o mais viável de ser analizado. No entanto, no aparelho fotográfico e no fotógrafo já estão, como germes, contidas todas as virtualidades do mundo pós-industrial. Sobretudo, torna-se observável na atividade fotográfica, a desvalorização do objeto e a valorização da informação como sede de poder. Portanto, a análise do gesto de fotografar, este movimento do complexo “aparelho fotográfico”, pode ser exercido para a análise da existência humana em situação pós-industrial, aparelhizada.
FLUSSER, Vilém. Filosofia da Caixa Preta: Ensaios para uma Futura Filosofia da Fotografia. São Paulo: Annablume, 2011. (P. 47-38)